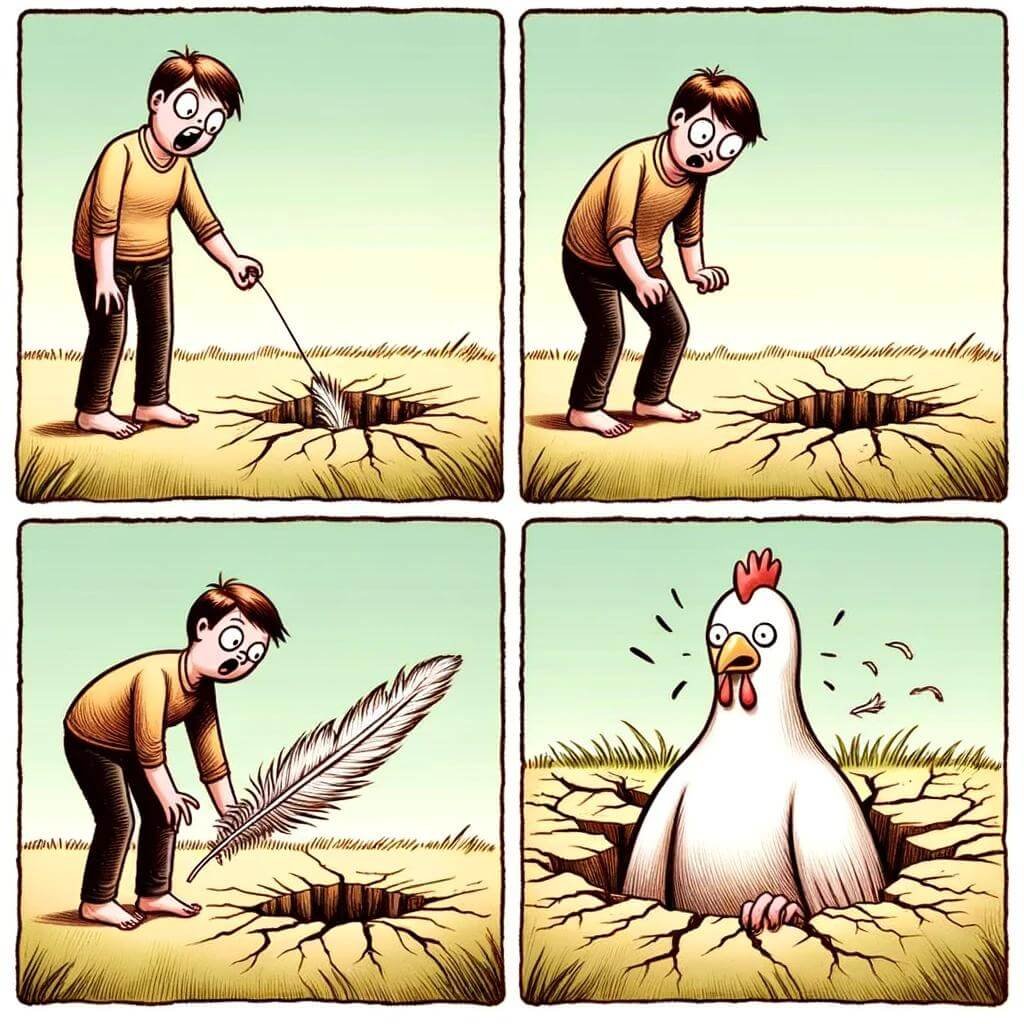A semana que se encerra foi bastante intensa para as pessoas que vivem com doenças raras e todos aqueles que gravitam a seu redor. Na segunda-feira (11/12), uma audiência pública realizada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasilia, reuniu pacientes, familiares, pesquisadores, operadores do direito e gestores, para discutir a judicialização da saúde sob os mais diversos ângulos. Já, na quarta-feira (13/12), foi a vez de o ministro da Saúde, Ricardo Barros, comparecer espontaneamente à audiência pública no Senado, promovida pela Subcomissão Especial sobre Doenças Raras (CAS-RARAS) e presidida pelo senador Waldemir Moka (PMDB-MS). Sobre este último ponto trataremos no blog, amanhã.
O balanço da audiência pública no CNJ foi amplamente positivo, muito embora tenha revelado aspectos preocupantes, no que diz respeito ao futuro da assistência farmacêutica a pessoas com doenças raras. Seu mérito foi apresentar o amplo arco de tendências de opinião entre os envolvidos no debate sobre a judicialização da saúde. Não é assunto que conte com unanimidade de opiniões.
Por outro lado, certa visão triunfante da Medicina Baseada em Evidências (MBE), por parte dos operadores do Direito, que tiveram direito à palavra, pode comprometer ainda mais o Direito à Saúde dos doentes raros. Por várias vezes aqui neste blog denunciamos a total inadequação da MBE e suas ferramentas auxiliares, como as Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS) convencionais para tomadas de decisão referentes à incorporação de medicamentos órfãos ao SUS.
Conceitualmente, as audiências públicas são coerentes com certa visão democrática do Estado, onde a voz dos cidadãos deve ser levada em conta quando da tomada de decisão. É através do debate livre e esclarecido entre os diversos setores envolvidos _ médicos, gestores públicos, operadores do direito, acadêmicos e usuários do SUS _ que podemos compreender entendimentos distintos sobre a questão em pauta, muitas vezes conflitantes.
As audiências públicas são regulamentadas por lei (Lei 8.625/93) e comumente adotadas no âmbito do Ministério Público, através da convocação da participação popular em audiências sobre assuntos correlatos à sua atuação. Outro dispositivo legal que dela trata é a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ela prevê a audiência pública como instrumento a ser empregado na tomada de decisões em âmbito federal.
A audiência pública no CNJ nos faz relembrar aquelas sobre o mesmo tema (“judicialização da saúde”) ocorridas em abril e maio de 2009, sob a liderança do então presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. Em despacho de convocação desta referida audiência, datado de 5 de março de 2009, o ministro esclarecia as razões que levaram a tal convocação:
Considerando os diversos pedidos (…) em trâmite no STF, os quais objetivam suspender medidas que determinam o fornecimento das mais variáveis prestações de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS)(…); considerando que tais decisões suscitam inúmeras alegações que lesão à ordem, à segurança, à economia e à saúde públicas; e considerando a repercussão geral e o interesse público relevante das questões suscitadas (…).
Na ocasião da audiência pública de 2009, a presidência do STF recebeu mais de 140 pedidos de participação. Para esta agora, no CNJ, foram recebidas 90 e homologadas 32, que tiveram direito à fala, ao que parece com duas desistências.
Aliás, o ano de 2009 é marcante para esta discussão sobre incorporação de tecnologias ao SUS (entre elas os medicamentos), por outras razões. É de 2009 também a criação da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, por meio da Portaria 2.690/2009. A referida Política define a gestão de tecnologias em saúde como “o conjunto de atividades gestoras relacionadas com os processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias do sistema de saúde”.
Mais tarde, a lei 12.401, de 2011, que autoriza a criação da Conitec, também institucionaliza a Avaliação de Tecnologias em Saúde, filha dileta da MBE, como critério indispensável para a tomada de decisão sobre a incorporação de tecnologias em saúde no SUS. Assim, caberia à Conitec emitir relatórios de recomendação sobre incorporação de tecnologias de saúde e emitir Protocolos Clínicos. Além disso, a mesma lei determina que nestes processos sejam observadas regras baseadas em evidências (eficácia, segurança e efetividade) e estudos de avaliação econômica (custo-efetividade e custo-utilidade).
E aqui começam nossos problemas. Isso porque, como afirma Michael Drummond, um dos pais da Economia da Saúde: “Se procedimentos-padrão em ATS [como os que aplica a Conitec] fossem aplicados a medicamentos órfãos, praticamente nenhum deles seria custoefetivo”. Não sendo custoefetivo, muito provavelmente não será incorporado. E será, então, judicializado.
Isto poderia explicar, a meu ver, o fato de até o dia de hoje, e ao longo de seis anos, a Conitec ter recomendado a incorporação ao SUS de somente quatro substâncias (medicamentos) específicas para doenças raras, a saber:
| Biotina |
| Alfataliglicerase |
| Cipionato de hidrocortisona 10 mg |
| Laronidase |
O tema da judicialização da saúde é altamente controverso, havendo quem a ele dirija argumentos negativos e positivos. Do lado negativo, são sempre mencionadas a finitude orçamentária, o caráter individual das demandas judiciais e ausência de parâmetros médico-técnicos quando da decisão judicial (esta última poderia explicar certo fascínio equivocado dos operadores do Direito com relação à MBE, que, como dissemos, foi originalmente concebida para o trato com doenças frequentes). Do lado positivo, evocam-se o direito constitucional à saúde, a ineficiência administrativa na prestação de serviços e a importância da atividade judicial.
Sobre tema tão polêmico, ninguém concluiu melhor , a meu ver, que Aith e cols (2014):
Nesse sentido, muito embora a criação da CONITEC e os novos contornos dados ao conceito de integralidade pela Lei 12.401/2011 sejam avanços importantes que podem resultar em melhoria da eficácia e racionalidade do sistema público de saúde, é de se ressaltar que sempre haverá alguma exceção a exigir dos poderes executivo, legislativo e judiciário uma medida também de exceção a fim de garantir o direito à saúde de pessoas portadoras de doenças raras ou necessidades especiais que não se encaixam nos protocolos estatais. A judicialização da saúde é, em estados democráticos de direito, uma importante via de acesso a serviços e produtos que não estão incorporados ao sistema público de saúde, mas fundamentais para a proteção da vida e da saúde, mesmo quando não constam dos protocolos e diretrizes terapêuticas do Estado.
Nova audiência pública sobre a judicialização está prevista para acontecer em fevereiro no CNJ. Os melhores momentos do evento, em breve, neste blog.
Para saber mais:
Aith e cols.: Os principios da universalidade e integralidade do SUS sob a perspectiva da política de doenças raras e da incorporação tecnológica. São Paulo. Revista de Direito Sanitário. v. 15, n. 1 . mar/jun 2014. Leia aqui