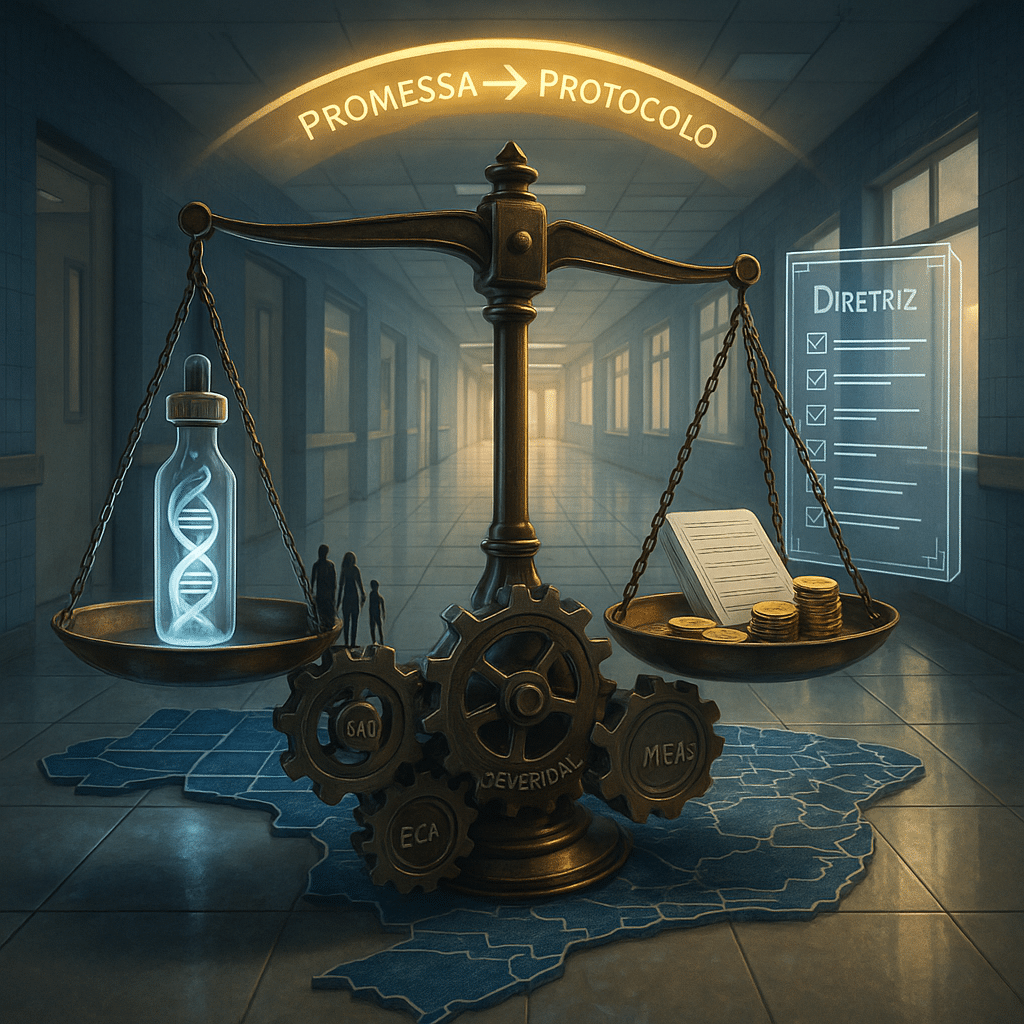Enviei na quarta-feira (17/9) minhas contribuições à consulta pública da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats) sobre a 3ª edição das “Diretrizes Metodológicas de Avaliação Econômica em Saúde”. O foco do meu parecer foi simples e direto: verificar se o documento, tal como está, dá conta dos desafios concretos para avaliar — e, principalmente, decidir — sobre tecnologias destinadas a pessoas com doenças raras e ultrarraras no Sistema Único de Saúde (SUS).
O veredito, em bom português: há avanços no alicerce geral, mas falta obra acabada onde a urgência é maior. Em quase todos os quesitos, a diretriz “atende parcialmente” quando o recorte são as raras/ultrarraras. Isso tem implicações reais para quem espera diagnóstico, tratamento e previsibilidade de acesso.
O que a diretriz faz bem — e por que ainda é pouco para raras/ultrarraras
Comecemos pelo positivo. A diretriz reafirma o QALY como desfecho de referência para avaliações econômicas (para doenças prevalentes?), atualiza o valor de referência de custo-efetividade e reconhece que a decisão não se esgota na razão custo-efetividade incremental (RCEI). Isso é relevante: sinaliza padronização, transparência e base comum para proponentes e avaliadores. Também reconhece a possibilidade de “limiar alternativo” em situações de gravidade e alto impacto, um dispositivo pensado para flexibilizar decisões quando a régua usual não captura adequadamente o valor social de uma tecnologia.
Mas é aqui que o “atende parcialmente” vira a expressão-chave. O documento dá a moldura, sem colocar a tela — especialmente para o universo raro/ultrarraro. Não há, por exemplo, um capítulo/trilha metodológica própria para essas condições e para terapias avançadas (as chamadas ATMPs, como terapias gênicas). A diretriz menciona que discutirá “mais adiante” esse bloco de tecnologias, mas não detalha quando e como. A consequência é uma lacuna operacional: seguimos sem um caminho padronizado para casos em que não há ensaios clínicos randomizados (ECR), ou em que os estudos são de braço único (SACT) e dependem de braços de controle externos (ECA) ou de evidências do mundo real (RWE).
A ausência desses protocolos não é detalhe técnico: é o centro do furacão em doenças raras. Na vida real, é isso que decide se um estudo com 40, 25 ou 12 pacientes — às vezes em pediatria — pode ser interpretado com a devida cautela e, ainda assim, sustentar uma decisão responsável. Sem critérios explícitos para construir ECAs, ancorar o tempo zero, ajustar confundidores, reportar sensibilidade e auditar modelos, ficamos à mercê de interpretações casuísticas, ad hoc. Em linguagem de política pública: vira loteria regulatória.
O ponto cego dos modificadores de severidade
Outro nó cego está na operacionalização do chamado “limiar alternativo”. A diretriz reconhece a ideia, mas não define o como. Em contextos onde países que lidam bem com raras avançaram, como Reino Unido e Noruega, há regras e pesos quantitativos por severidade (o “shortfall” absoluto ou proporcional de saúde ao longo da vida). Em termos práticos, isso significa dizer, ex ante, que doenças com grande perda de saúde acumulada “pesam” mais na balança — e que, portanto, aceitamos pagar mais por um QALY incremental nessas situações.
Por aqui, permanecemos no terreno do qualitativo (“doença grave”, “redução importante em QALY”), remetido à deliberação do plenário. Resultado: decisões podem oscilar para casos parecidos, dependendo de como a gravidade é percebida. Para as famílias, a imprevisibilidade dói tanto quanto a negativa: ninguém consegue planejar a vida quando o critério muda a cada parecer da Conitec.
ATMPs: reconhecidas, mas adiadas
A diretriz reconhece que terapias gênicas e outras curativas “quebram” o equilíbrio usual da taxa de desconto — o que é correto. Benefícios concentrados no início, efeitos que se projetam por décadas e custos únicos muito altos pedem cenários analíticos específicos. O documento sugere explorar cenários de desconto, mas não estabelece um padrão obrigatório para ATMPs. É pouco. Numa pauta que envolve orçamentos bilionários, cabe à diretriz ditar o mínimo denominador comum: quais horizontes analisar, quais taxas testar, como relatar sensibilidade e como projetar risco para o erário quando a incerteza clínica ainda é grande.
Mais grave: ao mesmo tempo em que abre a porta do “limiar alternativo” para doenças raras, a diretriz exclui ultrarraras e terapias gênicas desse arranjo. Paradoxo evidente: é justamente onde a incerteza é maior, as amostras são menores e o benefício social potencial é mais transformador que a flexibilidade deveria existir — evidentemente com contrapesos robustos de monitoramento.
A engrenagem que falta: protocolos + contratos + dados
Se tivesse de resumir o que a análise mostra sobre a assistência a pessoas com doenças raras e ultrarraras no país, eu diria: falta-nos uma engrenagem que una método, contrato e dado para decidir com coragem e responsabilidade. Essa engrenagem tem três dentes:
- Protocolos explícitos para quando não há Estudos Clinicos Randomizados: padrões mínimos para Estudos Clínicos de Braço Único (SACT/ECA) e para Evidência de Mundo Real (RWE), com checklist de qualidade, , emulação de ensaio-alvo, ancoragem temporal, ajuste de confundidores e auditoria técnica.
- Acordos de compartilhamento de risco: modelos contratuais por desempenho, volume e marcos de pagamento, com métricas de resultado, janelas de observação e gatilhos de desinvestimento definidos antes da incorporação.
- Registros nacionais com dados mínimos: sem um pipeline confiável de dados clínicos e de utilização no SUS, todo acordo de compartilhamento de risco vira letra morta. É o registro que viabiliza a reavaliação em 24–36 meses, reduz assimetria de informação e dá ao gestor a alavanca para rever o investimento se a promessa não se cumprir.
A diretriz atual tangencia o primeiro dente e praticamente não toca os dois últimos. Sem acordos de compartilhamento de risco e sem registros, decisões condicionadas ficam inviáveis; sem protocolos, a avaliação vira um mosaico de boas intenções (das quais o inferno anda cheio).
Transparência e alinhamento internacional não são luxo
Outro aprendizado da análise é que transparência não é um apêndice, é a argamassa. Se a diretriz tornasse obrigatório o checklist CHEERS 2022 e a disponibilização do modelo econômico (ou de uma versão auditável), ganharíamos reprodutibilidade, auditoria independente e, sobretudo, confiança social. Do lado de fora, sociedade e imprensa podem discutir se a decisão faz sentido; do lado de dentro, avaliadores ganham comparabilidade entre submissões.
Também é hora de olhar para fora. O novo regime europeu de avaliação de tecnologias (HTAR), já em vigor para oncologia e terapias avançadas, publicou guias sobre desfechos e validade de estudos. Harmonizar nossas exigências ao que está sendo pedido na Europa não significa importar soluções acriticamente; significa aproveitar o que já foi consensuado em termos de comparabilidade de estudos, reporte e robustez metodológica — justo o que mais falta quando se avalia uma tecnologia para uma a cada 100 mil pessoas.
O que isso tudo revela sobre a assistência às pessoas com raras/ultrarraras
A fotografia que emerge é de um SUS capaz de construir boas bases técnicas, mas que ainda não estruturou os instrumentos operacionais indispensáveis para garantir previsibilidade, equidade e sustentabilidade nas raras/ultrarraras. Em bom português:
- Previsibilidade: sem regras objetivas (pesos de severidade, protocolos de SACT/ECA/RWE, padrões para ATMPs), as decisões oscilam e a fila do acesso vira um zigue-zague.
- Equidade: se não medimos e ponderamos a severidade de forma explícita, pessoas em situações mais graves não recebem tratamento diferenciado no cálculo social — embora todos concordemos, intuitivamente, que deveriam.
- Sustentabilidade: sem acordos de compartilhamento de risco e registros, o gestor fica sem freios e contrapesos para corrigir rota quando a evidência amadurece; e o sistema fica exposto a decisões de alto impacto orçamentário baseadas em promessas não testadas no mundo real do SUS.
O mais irônico é que as soluções estão sobre a mesa. Protocolos de ECA, guias de RWE, modificadores de severidade, templates contratuais de acordos de compartilhamento de risco, exigências de reporte e padrões de modelo já foram experimentados em outras jurisdições. O trabalho, aqui, é traduzir e adaptar: montar uma trilha “Raras/Ultrarraras/ATMPs” que comece na submissão (com checklists e anexos técnicos), passe por uma decisão condicionada (com contrato e metas) e termine na reavaliação baseada em dados do SUS. Não é prometer tudo a todos — é prometer governança e cumprir.
E agora?
A consulta pública é a chance de a Rebrats e a Conitec transformarem um bom manual geral num manual executável para raras e ultrarraras.
Se o objetivo de uma diretriz é, além de ensinar, reduzir arbitrariedade, então chegou a hora de fazer o ajuste fino onde a ciência ainda é escassa e a incerteza, estrutural. Quando se trata de doenças raras e ultrarraras, governar bem é estabelecer regras claras para decidir com dados imperfeitos — e ter a coragem de revisar a própria decisão à luz de evidências que emergem. É isso que as famílias esperam. E é isso que o SUS, com a maturidade que já alcançou, pode e deve entregar.
Parâmetros justos para doenças raras e ultrarraras existem. Nada que um bom benchmarking governamental não resolva.
Falta é vontade política para implantá-los.